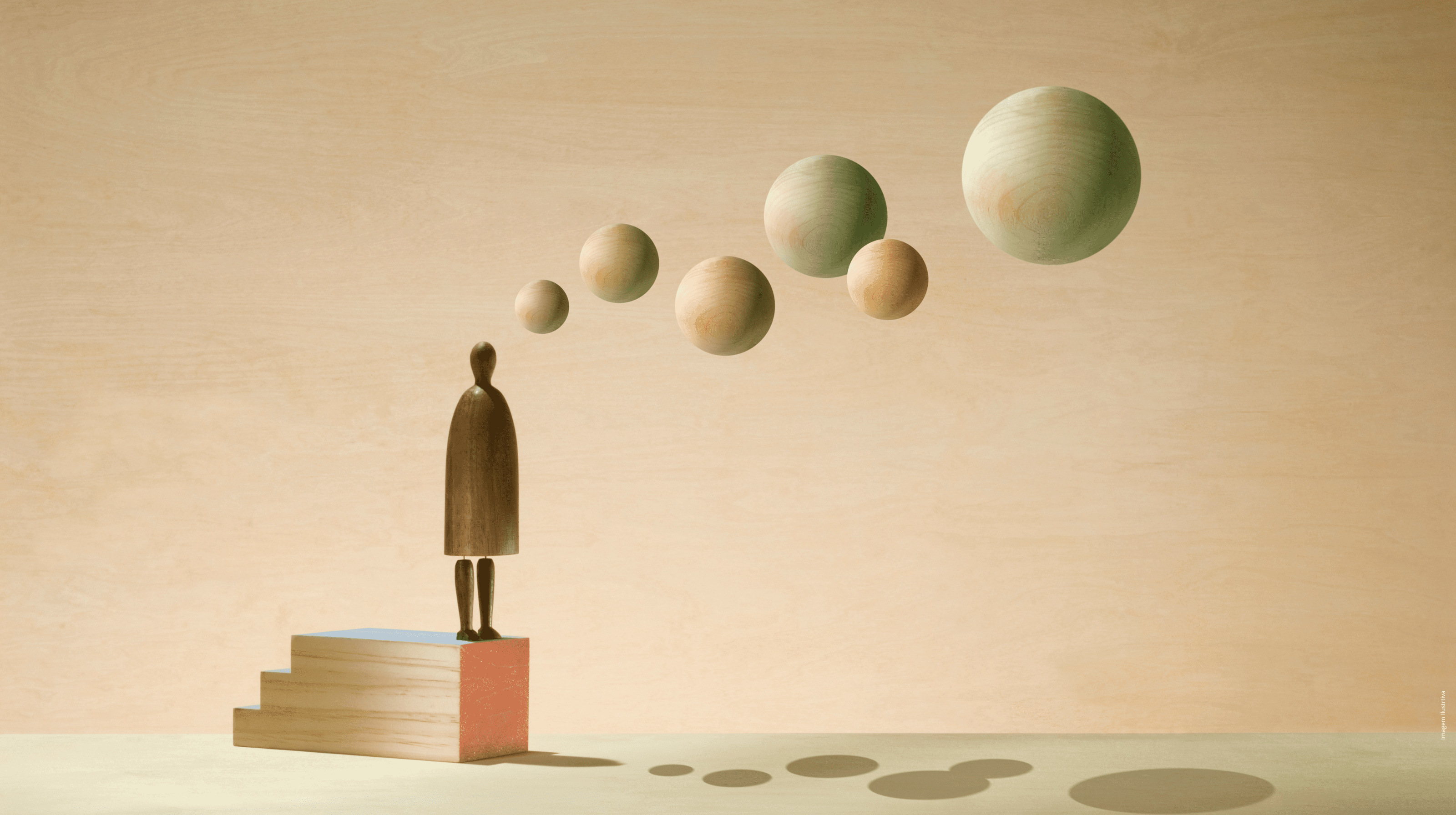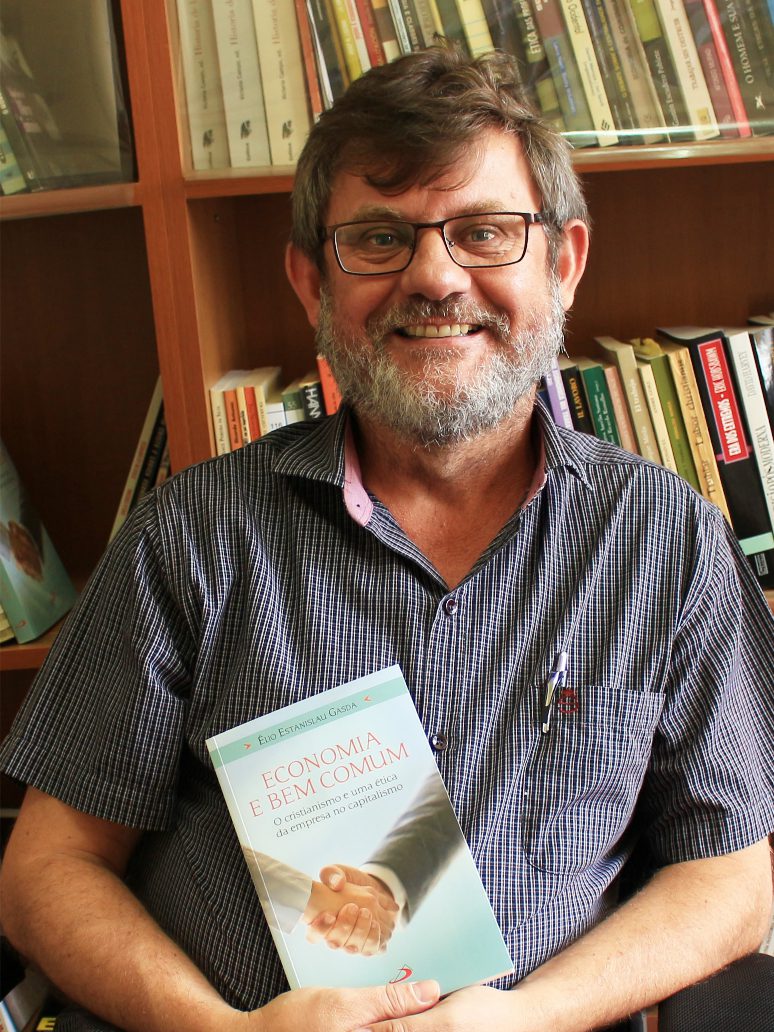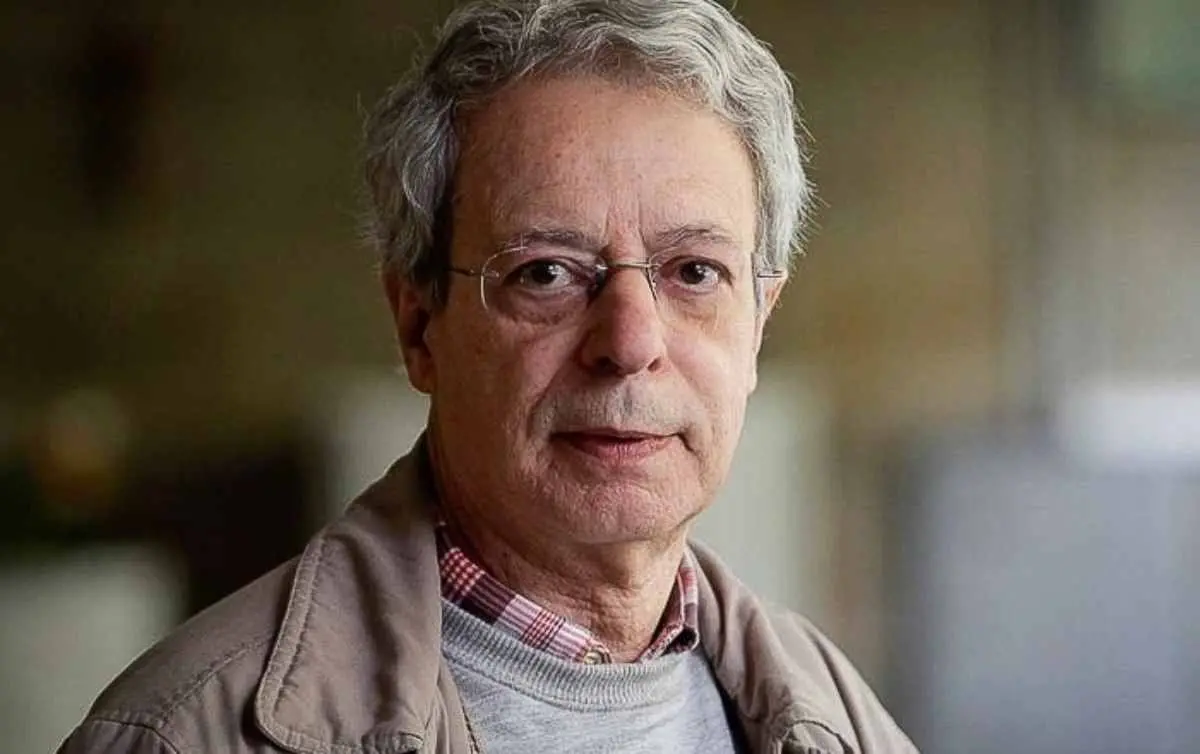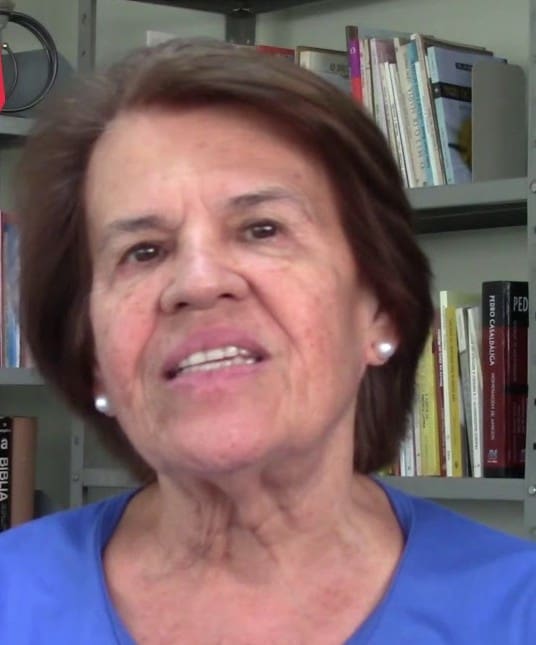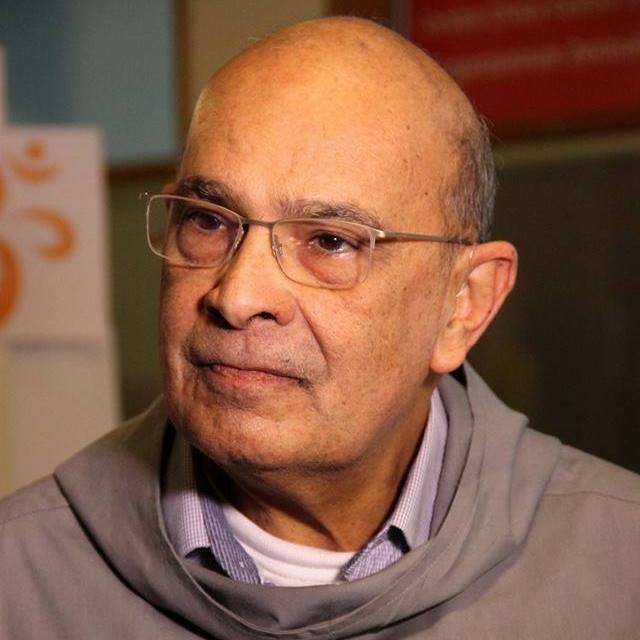Faço parte do milhão de pessoas que viu durante estas semanas o maravilhoso filme de Walter Salles “Ainda estou aqui”. Como todos, saí emocionada e impactada da sala, após aplaudir freneticamente em conjunto com os outros presentes naquela tarde de segunda-feira de feriadão.
Muito já se escreveu, muito já li sobre o filme, o diretor, os artistas. Críticas abalizadas, especializadas, todas positivas. O que mais poderia ser dito sobre essa obra-prima do cinema nacional, que tem como tema um fato do Brasil dos anos de chumbo, mas que apenas poucos dias após sua estreia já se revelou de uma atualidade contundente e assustadora? Vivemos o dia seguinte da revelação do golpe planejado para matar presidente, vice-presidente e ministro da Suprema Corte.
Como negar que os anos de chumbo estão mais vivos do que nunca? E que se não cuidarmos com muito desvelo nossa frágil democracia poderão atropelar-nos entrando em nossa casa no meio de um dia ensolarado e alegre, levando para sempre seres queridos e dividindo nossas vidas em antes e depois?
Por isso e não só por sua arte irretocável e direção magistral, o filme de Walter Salles nos interpela aqui e agora. Sua narrativa, que para os de minha geração é conhecida, assombra pela exatidão e atualidade. Mas para novas gerações que nasceram já nadando em águas democráticas, é todo um aprendizado. Duro aprendizado que revela que em meio às belezas e a descontração da orla carioca podem voltar as sombras da morte e do medo.
Fala-se do filme como o filme sobre Rubens Paiva. Na verdade, a figura central do filme é Eunice Paiva – Maria Lucrecia Eunice Facciolla Paiva – no auge de seus 42 anos, casada, mãe de cinco filhos, que ia à praia, organizava refeições para família e convidados, reeebia amigos, amava Rubens com quem dançava na sala em reuniões de uma alegria autêntica e contagiante.
O arbítrio e o terror entram na vida dessa mulher com a força de um tufão. Subtraem para sempre o marido amado, arrastam-na para dependências obscuras e anônimas de um interrogatório. Enquanto isso, sua casa permanece invadida sem que ela saiba o que se passa.
A partir dali, Eunice vai constatando que não pode deixar a morte e o medo tomarem sua vida inteira ou o que dela restou. Existem cinco filhos jovens que não podem valer-se por si sós. E aí começa – a esposa e mãe de vida organizada – a procurar as brechas através das quais, em meio à desordem, poderá descobrir os caminhos luminosos que conduzem à vida. Em uma das cenas do filme, responde a quem lhe pergunta como tem forças para seguir adiante. Os olhos de Fernanda Torres (Eunice) se arregalam e seu largo sorriso se abre na resposta: “muito filho pra criar”.
Muito filho, muita força e muita capacidade a dessa mulher que, enquanto lutava para que a verdade sobre o destino do marido viesse à tona e que os filhos completassem sua educação, estudava Direito, recebia diploma e passava a defender os povos originários com força e destemor.
Eunice nos assinala com sua vida um traço constitutivo da identidade feminina: ser guardiã e cuidadora da vida. Não há tempo de pensar na morte. A vida está esperando nos filhos que precisam ser levados ao colégio, na casa que precisa ser abastecida. Precisam ser ouvidos, cuidados, acompanhados. Não há tempo para chorar isoladamente. É necessário fazê-lo enquanto se vive e se luta para que outros vivam e cresçam.
Esse filme nos mostra, entre outras muitas coisas, a intimidade e sintonia da mulher com a vida. Enquanto a morte procura fazer seu trabalho predatório, a vida não lhe dá trégua e insiste em vencer. De que maneira? Vivendo. Reproduzindo essa narrativa milenar de que o amor é mais forte que a morte. E ensinando que viver é a única forma da vítima triunfar sobre o algoz.
Viver é guardar a memória daquele que se foi e buscar incessantemente a verdade sobre seu desaparecimento. É cuidar dos que ficam, proteger as coisas miúdas e reais da existência, cultivar alegria a partir do que restou sem perder a urgência de reparar o que foi destruído. É alargar suas tendas e ir ajudar a outros, vítimas da história de um Brasil que ainda não sanou suas feridas. É ser sempre a garantia da esperança equilibrista que diz que tudo continua apesar de tudo e de todos, sobretudo dos que desejam que a morte tenha a última palavra.
Onde está Eunice? Ainda está aqui. Do lado da vida. Junto a outras que também guardaram e protegeram essa vida ameaçada com seus próprios corpos fragilizados e corações sangrando. Vida que mesmo do fundo das sombras do Alzheimer emerge e se expressa com a delicadeza do amor. Obrigada Eunice!
Maria Clara Bingemer, professora do departamento de teologia da PUC-Rio